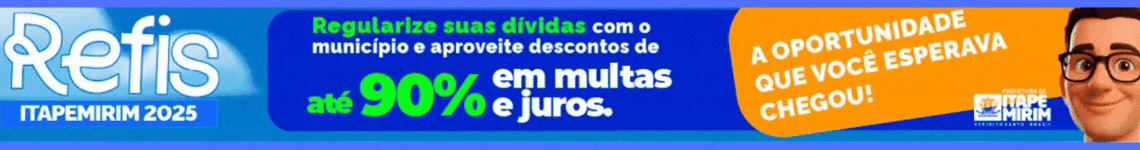Durante muito tempo, o manguezal foi um ambiente desprezado e repudiado pelos europeus como um lugar parecido com os pântanos do hemisfério norte. Eles exalavam odores desagradáveis. Eram lamacentos. Embora permitissem o desenvolvimento de árvores – algumas delas até mesmo grandes – e de animais, o mangue parecia infecto e transmissor de doenças. Não era assim que o tratavam os povos americanos, africanos e asiáticos. Para eles, o manguezal era fonte de vida e alimento. Aos poucos, os europeus foram percebendo que aquele lugar aparentemente desprezível tinha algum valor. No princípio do século XVIII, André João Antonil retratou a oposição entre extrativismo vegetal pelos engenhos de açúcar e extrativismo animal, notadamente de ostras, que eram importante fonte de alimentos para os escravos (Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. São Paulo: Melhoramentos/Brasília: INL, 1976).
Os manguezais se transformaram, assim, em campo de conflito entre pequenos e grandes extrativistas. Um caso exemplar ocorreu no Rio de Janeiro no século XVII. Ele foi relatado por Vivaldo Coaracy (O Rio de Janeiro no Século 17. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965) e por José Vieira Fazenda (“Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro”. Revista do IHGB tomo 88, vol. 142, 2º ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1940) e é ilustrativo da complexidade das relações entre população leiga, eclesiásticos e Estado. Uma representação dos oficiais da Câmara do Rio de Janeiro dirigida ao rei de Portugal em agosto 1677 deixa claro que o corte de árvores dos manguezais era de vital importância para suprir as necessidades dos moradores. Explicavam os representes que o administrador da Diocese do Rio de Janeiro, por requerimento do Reitor do Colégio da Companhia de Jesus, excomungou moradores da cidade por cortarem árvores de mangue. Para deter o curso do processo, o Procurador do Senado da Câmara pedira vistas do mesmo, já que, promulgada a excomunhão, criava-se perigoso precedente para enquadrar todos os moradores da cidade na mesma pena, pois, sem os manguezais, a vida deles tornava-se inviável, isso porque suas árvores atendiam às seguintes necessidades: 1- produção de caibros e de armações para casas, sendo raras as que não se utilizavam daquela madeira; 2- provisão de lenha para fins domésticos; 3- provisão de lenha e de cinza para uso de engenhos de açúcar situados no recôncavo da baía do Rio de Janeiro; 4- fornecimento de lenha para abastecer os navios em suas viagens. Acrescentavam os representantes que nunca houve qualquer restrição ao corte de árvores em manguezal por parte do Estado e da Igreja e que, dessa forma, a cidade cresceu com a energia e a matéria-prima provenientes daquele ecossistema. Nenhuma referência foi feita ao extrativismo animal praticado por camadas pobres da sociedade.
Examinando com atenção o documento, fica patente um conflito entre os interesses das Ordens dos Jesuítas e dos Beneditinos, de um lado, e da população, de outro, levando o poder público a se posicionar. Pelos termos da representação, jesuítas e beneditinos aforaram terras sob influência das marés, portanto sujeitas ao desenvolvimento de manguezais, em regime de sesmarias, que foram progressivamente ampliadas, alegando os peticionários que as terras anteriormente ganhas eram alagadiças e imprestáveis para a agricultura. Para impedir o corte de árvores de mangue pelos habitantes da cidade – que o julgavam bem da Coroa e de uso comum por se desenvolver na costa sob influência das marés –, jesuítas, beneditinos e alguns homens ricos estavam tentando impedir o acesso dos moradores a ele com a ameaça da excomunhão. Os representantes de tal forma enfatizam a importância dos manguezais para a cidade que não hesitam em recorrer a um argumento extremamente forte: “quando Vossa Alteza por algum respeito for servido dar os mangues àqueles Religiosos, era certo dar-lhes toda aquela cidade, porque não podiam deixar os moradores dela de serem tributários àqueles dois conventos por ficarem sendo senhores de quase todos os mangues daquele recôncavo, e de necessidade lhos hão de aqueles moradores comprar para fábrica das casas e gastos delas, impossibilitando por este modo a alguns engenhos, que se valem dela para moer, e aos navios suas viagens com dobrados gastos; e se a Vossa Alteza não chegaram queixas dos ditos Padres, era porque com seu grande poder e cabedal tudo cobriam.”
A Coroa considerou justa a reclamação e deu ganho de causa aos moradores do Rio de Janeiro, mandando o Governador Geral exibir aos jesuítas e beneditinos os títulos que davam ao Estado a propriedade de áreas de manguezal, bem como assegurando a exploração vegetal à população. Ainda mais: cumpria ao Ouvidor advertir o bispo da diocese da cidade que deixasse seus moradores em paz e que os religiosos deveriam se comportar como qualquer civil no pleito de sesmarias.

Há documentos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro que revelam o manguezal como palco do conflito de interesses econômicos, as políticas governamentais adotadas com relação a eles e escassas informações de natureza ecológica. Uma carta de Luís Cesar de Menezes, capitão-geral da Bahia enviada para a Câmara de Boipeba, na Bahia, a 5 de outubro de 1706, dá bem a medida dos interesses em torno dos manguezais: “Recebi a carta de Vossas Mercês de 23 de setembro passado, e com ela a cópia da ordem, que o Senhor Dom João de Lancastro mandou passar sobre a proibição da casca de Mangue: mas como sobre este particular alcançaram os curtidores desta cidade, sentença na Relação para poderem tirar a dita casca, por ser para o benefício da sola, o qual é de utilidade à fazenda de Sua Majestade; pelos direitos que paga, se deve observar a dita sentença; e Vossas Mercês tratem de dar a execução os meus despachos; porque se obrarem o contrário do que por eles lhes ordeno, os hei de mandar vir emprazados para os castigos como me parecer justiça. Deus Guarde a Vossas Mercês. Baía, a Outubro 5 de 1706. Luiz Cesar de Menezes.”
O conde de Vimieyro, em carta de 15 de janeiro de 1717 ao Sargento-Mor Pantaleão Rodrigues de Oliveira, de Camamu, Bahia, reitera suas ordens de que os manguezais sejam protegidos em benefício do povo: “Sobre a casca de mangue tenho respondido a Vossa Mercê, e ao requerimento do povo para que de nenhuma maneira se altere o que sempre aí se observou; porque tudo o que for a bem de seu povo, é unicamente o que eu quero, e o que hei a Vossa Mercê por muito recomendado, e aos oficiais da Câmara dessa Vila, a quem Vossa Mercê assim o dirá. Guarde Deus a Vossa Mercê. Baía e Janeiro 15 de 1717. O Conde de Vimieyro” (Carta que se escreveu ao Sargento-mor de Camamu Pantaleão Rodrigues de Oliveira sobre conduzir os soldados ausentes da Praça somente, e casca de mangue”. Biblioteca Nacional. Documentos Históricos (Cartas, Alvarás, Provisões, Patentes) 1716-1720, vol. XLIII. Rio de Janeiro: Tipografia Baptista de Souza, 1939, p. 191).
Em 30 de novembro de 1718, ele recorda ao mesmo Sargento-Mor a obrigatoriedade de cumprir as ordens emanadas dos Governadores quanto à proibição de tirar casca de árvores de mangue: “Vossa Mercê é obrigado, segundo as ordens que lhe têm ido deste Governo em tempos dos meus antecessores, a dar inteiro cumprimento a elas enquanto eu as não altero, nem mando outras em contrário. O Povo tem razão no requerimento que faz, e se não deve tirar a casca para os curtidores em tanto dano das fazendas desse povo, e do seu sustento, e pescaria, senão indo os interessados neste trato buscar a dita casca, três léguas distante do mesmo povo, como ordenou o Senhor Dom João de Lancastro que Deus tem, pela cópia da que Vossa Mercê me remeteu, a qual Vossa Mercê deve observar, pois até agora nenhum dos Senhores Generais a alteraram, com atenção às conveniências do povo, em que eu não sou menos empenhado, e esta minha carta lhe sirva a Vossa Mercê de retificação às ordens que tem havido sobre este particular. Guarde Deus a Vossa Mercê muitos anos. Baía e Novembro 30 de 1718. O Conde de Vimieyro.”

O governante salienta que os manguezais são de vital importância para a pesca, já percebendo, embora de forma superficial, a relação entre a integridade do ambiente e a abundância de peixe, concedendo aos curtidores que obtenham material para a tintura de couros três léguas distantes de Camamu (“Carta que se escreveu ao Sargento-mor Pantaleão Rodrigues de Oliveira que o é da Vila do Camamu, sobre não consentir que se tire casca de mangue, em nome dos interesses do Povo e contra a vontade dos curtidores”. Publicada em MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE/BIBLIOTECA NACIONAL. Documentos Históricos (Cartas, Alvarás, Provisões, Patentes) 1716-1720, vol. XLIII. Rio de Janeiro: Tipografia Baptista de Souza, 1939).
O ano de 1760 tornou-se um marco na história das relações das sociedades coloniais do Brasil com os manguezais. Nele, o rei de Portugal D. José I expediu um Alvará com força de Lei aplicável às Capitanias do Rio de Janeiro, Pernambuco, Santos e Ceará. A medida régia proibia o corte de árvores de mangues com casca, a fim de que elas fornecessem tanino para curtumes. Só árvores já descascadas poderiam ser cortadas. Conclui-se que, com tal providência, mesmo depois do alvará, os manguezais continuaram a ser destruídos, porque, após retirada a casca das árvores, rica em tanino, elas tornavam-se passíveis de corte. Na realidade, não foi uma determinação visando a proteção dos manguezais, e sim favorecendo a indústria da curtição de couros. Como muitos outros, esse diploma legal sempre jazeu no papel, criando a tradição de constituir-se um Brasil legal distinto de um Brasil real, ambos profundamente distantes um do outro.
Parece que o Alvará Régio de 1760 e as provisões emanadas das autoridades governamentais da Colônia suscitaram interpretações distintas em sua aplicação. É o que se pode concluir de ofício da Câmara de Jaguaripe ao Governo da Bahia, datado de 31 de julho de 1773: “Por Provimento dos Doutores Ouvidores da Comarca, em observância de uma Provisão Régia, com pena pecuniária e de prisão, é proibido o tirar casca dos mangues em qualquer parte dos rios desta Vila, e curtume, pelo grande prejuízo, que da tirada de tal casca resulta ao bem comum destes povos na falta de peixe e mariscos, que se criam e abrigam nos referidos mangues, os quais quando que se lhes tira alguma casca se secam logo; além de que com o mal cheiro da referida casca tirada -por cair alguma dentro d’água- se afugenta o peixe e marisco, como tem mostrado a experiência: sendo certo que em qualquer parte dos rios deste termo, que se tire a dita casca resulta prejuízo ao bem comum, o qual deve prevalecer ao particular do Suplicante que até agora nos não consta usasse de semelhante modo de vida. É o que podemos informar a V.Ex.ª que mandará o que for devido. Vila de Jaguaripe em Câmara de 31 de Julho de 1773. Manoel Joaquim Moraes Escrivão da Câmara a escrevo.” (“Ofício da Câmara da Vila de Jaguaripe de 31 de julho de 1773 dirigido ao Governo da Bahia, sobre a extração da casca de mangue”. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos).
O documento reporta-se a “uma Provisão Régia” proibindo a extração de casca de mangue em qualquer parte da vila, sob pena pecuniária e de prisão, e reconhecendo o grande prejuízo de tal prática para o bem comum, que fica privado de peixes e mariscos, criados e abrigados pelos manguezais. Nota ainda que a retirada da casca provoca a morte da árvore e, quando caída na água, a putrefação dela afugenta animais aquáticos. O objetivo do ofício era informar ao Governador que as reivindicações para retirada de casca por uma certa pessoa, cujo nome não é revelado, não contavam com respaldo legal, sobretudo porque ela não possuía curtume. É de se notar a percepção da correlação entre corte de árvores e transformações ambientais. Desde Antonil, no alvorecer do século XVIII, crescia a consciência de que o manguezal não se reduzia a uma ambiente inerte, mas que produzia respostas negativas à fauna e à economia pesqueira sempre que agredido.
Do Senado da Câmara da mesma vila de Jaguaripe, parte, em agosto de 1784, ofício para o Governo da Bahia: ““Ilmo e Exmo Snr. Representando a Câmara, desta Vila ao Ilmo Sñor Vice-Rei deste Estado o grave prejuízo, que estes povos experimentavam, e lhes resultava do corte dos mangues e tirada casca deles, mandou o dito Snr. por seu Alvará, que nenhuma pessoa de qualquer qualidade foro, ou condição que fosse, pudesse cortar mangues alguns em qualquer parte dos rios do termo desta Vila nem tirar deles a casca, sob graves penas pecuniárias etc. E suplicando a mesma Câmara a S.M.F a confirmação da dita proibição e pedindo-lhe juntamente que em atenção às diminutas rendas deste Conselho fosse servido conceder à dita Câmara a faculdade de dar licenças para o corte de mangues brancos por não ser tão prejudicial como os vermelhos, e tirada da casca deste, percebendo algum emolumento, S.M.F. assim o mandou por Provisão de 9 de Junho de 1784 (…) Em cumprimento e na conformidade da dita Provisão mandaram e determinaram os Doutores Ouvidores desta Comarca por seus Provimentos que a Câmara só pudesse conceder as tais Licenças para o corte dos mangues brancos, e tão somente para os fornos das olarias; e de nenhuma sorte para o dos vermelhos, nem para a tirada da casca destes; e assim se tem inviolavelmente observado, sem embargo de alguns particulares a terem suplicado, oferecendo avultadas quantias anuais para a Câmara. Porquanto debaixo do raizame do dito mangue vermelho é que se abriga o peixe, e produz o marisco, o qual se afugenta com a tirada da dita casca; de que também resulta secarem logo as ditas árvores descascadas. E se isto se permitir, em poucos anos ficarão os tais mangues destruídos, em grave prejuízo do bem comum, que se deve preferir ao particular. É o que podemos informar a V. Exª que mandará o que for servido. Vila de Jaguaripe em Câmara de 21 de Agosto de 1784: Manoel João de Moraes Escrivão da Câmara a escrevi (…) Os Oficiais da Câmara Ignacio Caetano Soto Mayor, Manoel Bento Rodriguez, Antonio Aniceto Cordeiro, Antonio Rodriguez de Oliveira, João Dias da Silva Almeida.”

Como se constata, os Oficiais da Câmara reconheciam a importância do Alvará expedido pelo Vice-Rei do Brasil proibindo a retirada da casca de árvores de mangue pelos graves prejuízos decorrentes de tal prática. Todavia, revela o documento que a Câmara houvera pedido autorização para o corte de mangue branco a fim de aumentar as diminutas rendas da vila, tendo em vista que este tipo de mangue não cumpria papel importante para a atividade pesqueira como o mangue vermelho. A autorização foi concedida pela Ouvidoria da Comarca por Provisão apenas para alimentar fornos de olarias. Informavam os vereadores que as determinações estavam sendo cumpridas à risca, não obstante as fortes pressões de alguns particulares para o corte de mangue vermelho ou para extração de sua casca, pois esta espécie é que abriga, em suas raízes, peixes e mariscos (“Ofício do Senado da Câmara da Vila de Jaguaripe, 21/08/1784”. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, Documento sob o código I-31,30,55).

Mais uma vez, confirma-se a percepção dos manguezais como sistemas vivos, embora em nível de senso comum, como até hoje entendem os coletores de moluscos e crustáceos. Segundo estes, as raízes ou ramificações do caule do mangue vermelho constituem ambiente dos mais propícios para a incrustação de ostras, enquanto suas folhas são o alimento predileto do caranguejo da lama (Ucides cordatus), de todos os crustáceos que habitam o manguezal o mais apreciado como iguaria.
O conflito de interesses entre os curtumes e a agromanufatura do açúcar, de um lado, e coletores de peixes e de crustáceos, de outro, travado ao que parece com mais intensidade nos séculos XVII e XVIII, aponta para uma vitória dos primeiros. No século XIX, a discussão mostra indícios de arrefecimento. Uma das hipóteses para explicar este silêncio em torno da questão é que o conflito continua existindo, mas se torna secundário em face da modernização da economia. Outra é que os curtumes encontram madeiras com maior teor de tanino, como o monjolo, por exemplo.